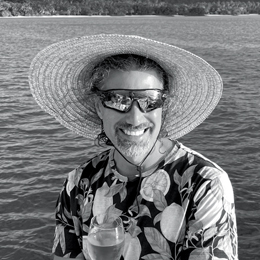Uma pastora seminômade da tundra siberiana jamais será capa da Vanity Fair, mas nem por isso Jimmy Nelson se furtou a dar-lhe seu dia de celebridade. Fez o mesmo com os caçadores da Mongólia, esses que usam águias para capturar raposas. E os herdeiros de antigas civilizações mesoamericanas, como os chichimecas e os zapotecas. E os povos do Vale do Omo, na Etiópia. E dos vales remotos do Himalaia. E das montanhas esquecidas de Papua Nova Guiné. Todos gloriosos, exuberantes, imersos na paisagem que chamam de lar e vestindo os melhores figurinos disponíveis acima do Círculo Polar Ártico, a leste da Ilha de Java ou ao sul do Saara.
Há dez anos, o fotógrafo britânico Jimmy Nelson decidiu trocar a fotografia publicitária pela documental, abrindo mão de uma longa carreira clicando modelos e produtos pela aventura de viajar pelos lugares mais remotos do planeta em busca dos povos que o mundo desenvolvido ainda não corrompeu. Ou mesmo se corrompeu, em maior ou menor grau, o que Jimmy Nelson procurou fazer foi registrá-los como se vivessem antes da chegada dos colonizadores, dos turistas e do wi-fi. O resultado está em dois livros nada modestos, cada um com 500 páginas e pesando 5 quilos: Before They Pass Away (Antes Que Eles Morram) e Homage to Humanity (Homenagem à Humanidade).
Ambos, quando lançados, foram crivados de críticas por parte de antropólogos, para quem as imagens não traduzem a realidade na qual esses povos vivem hoje. “É uma interpretação romântica”, Jimmy se defende. Ele reconhece que, sim, todos os retratos são meticulosamente planejados, das roupas ao local das fotos, mas garante que nada ali foi inventando – cada retrato é a mais pura expressão daquela cultura. Para Jimmy, esta foi a forma que encontrou de recuperar uma infância perdida, de voltar ao tempo em que morou em diversos lugares da África e da Ásia acompanhando o pai, geólogo da Shell, e travando contato com povos dos mais diversos. Uma experiência subitamente interrompida aos sete anos de idade, quando foi enviado para um internato no Reino Unido onde passaria o resto da infância e da adolescência. Ali, sofreu um novo trauma: em decorrência de estresse e de uma medicação para malária mal administrada, teve alopécia. Aos 16 anos, seu cabelo caiu e nunca mais voltou a crescer.

Quando saiu do internato, sentindo-se feio e excluído, foi para o único lugar do mundo onde poderia encontrar garotos carecas como ele e não ser julgado por isso: atravessou a pé o Tibete e seus milhares de jovens monges budistas. Ali começou a fotografar e também a empreender a jornada, como ele diz, de “encontrar uma maneira de trazer a alma de volta ao corpo”. Para Jimmy, esse foi o início de uma aventura que o levou a conhecer 60 povos do planeta profundamente diferentes dele, mas ao mesmo tempo iguais em sua humanidade.
Hoje com 54 anos e vivendo em Amsterdã há 30, ele nos conta um pouco sobre sua jornada nesta entrevista. E, também, sobre seu trabalho de resgate cultural por meio da Jimmy Nelson Foundation e de seu mais recente projeto, fotografando 25 comunidades tradicionais na Holanda, ou seja, em seu próprio quintal. Impedido de viajar pela pandemia, Jimmy Nelson descobriu que não é preciso ir tão longe para se conectar com a ancestralidade.

Como viajar impactou a maneira como você vê o mundo?
Eu cresci viajando quando criança. Fui apresentado ao mundo da forma mais pura imaginável. Meu pai era geólogo, e isso me levou a culturas diferentes e maravilhosas ao redor do planeta. Eu experimentei uma conexão muito pura com o mundo e com as pessoas que vivem nele. E depois disso, eu passei dez anos estudando no Reino Unido, em um internato de padres jesuítas. Fui transferido para um ambiente onde poderia ser educado no mundo desenvolvido, e esse ambiente me quebrou. Havia muita desconexão ali. Quando saí do internato, eu queria fugir. Vendo em retrospectiva, acredito que eu queria reconectar o que sentia com quem eu era, então voltei a viajar. Quanto mais remoto, mais isolado e mais diferente o lugar, mais eu acreditava que encontraria empatia por meio da minha vulnerabilidade como ser humano.
E encontrou?
Jamais encontrarei as respostas que procuro, mas me entrego ao prazer dessa descoberta. E não preciso entrar em um avião para fazer isso. Se estou genuinamente curioso em aprender e descobrir sobre os seres humanos, posso fazer isso na porta da minha casa. Também estarei viajando. É essa necessidade sem fim de aprender sobre o outro para me redescobrir. Quando eu era jovem, acreditava que viajar era uma fuga física; hoje entendo que é mais uma metáfora.
De fato, depois de rodar o mundo, você decidiu fotografar comunidades na Holanda, ou seja, pessoas no seu próprio quintal. Isso se deve à pandemia?
Até certo ponto, sim. Eu moro na Holanda há 30 anos. Até recentemente, eu achava que precisava ir até o outro lado do mundo para fazer uma foto, mas agora estou descobrindo que essa é a alternativa mais fácil. É mais fácil ir à Papua Nova Guiné e romantizar a imagem de alguém com um rosto amarelo e uma pena na cabeça. Aqui no mundo desenvolvido é diferente, é como descascar uma cebola. Talvez eu estivesse evitando a descoberta do meu próprio ambiente doméstico porque ele exige um trabalho mais árduo. Há uma beleza enorme no meu quintal, mas você tem que cavar para encontrá-la. E, sim, o catalisador foi o último ano e meio de pandemia. Foi quando eu parei para refletir: eu sou um verdadeiro artista? Estou genuinamente interessado nas pessoas ou estou apenas viajando por uma questão de satisfação pessoal?


E você chegou a uma conclusão?
A conclusão é que agora acredito que estou genuinamente interessado em seres humanos. Estou fascinado com a jornada de como eu posso me espelhar neles e aprender a me enxergar e me conectar comigo mesmo.
As pessoas que você retrata estão sempre posando, nunca espontâneas. Há uma razão para isso?
Eu me considero um artista. Não um fotógrafo, não um documentarista, não um jornalista, não um antropólogo. É muito claro para mim o que quero dizer. É subjetivo, é a minha visão, meu sentimento. Por isso eu dirijo as fotos, estou criando a verdade do que quero comunicar. E às vezes sou criticado por isso. Mas ninguém questiona a representação que fazemos de nós mesmos no mundo desenvolvido, essa imagem icônica, engrandecida que se vê de uma celebridade na capa de uma Vanity Fair, por exemplo. Ninguém questiona a direção, a pose, o photoshop, todos os retoques. Essa é a nossa imagem de quem aspiramos ser no mundo desenvolvido. Quando você inverte essa lógica e decide honrar o que é visto como seres humanos inferiores, primitivos, a reação é a de que isso não pode ser verdade. Essa beleza, esse poder, essa dignidade, eles não têm direito a tudo isso. Isso causa desconforto, porque desperta para o fato de que as pessoas no mundo desenvolvido podem não ser as mais ricas do planeta.
Então você procura fotografá-las como se fossem celebridades?
Eu tento registrá-las como super-heróis. Acredito que algumas das comunidades que visitei são versões vivas de um super-herói, de um ser humano que está conectado consigo mesmo, com o que sente, com o outro, com sua cultura e com o mundo natural.
Acredito que algumas das comunidades que visitei são versões vivas de um super-herói, de um ser humano que está conectado consigo mesmo, com o que sente, com o outro, com sua cultura e com o mundo natural
Sabemos que alguns desses povos vivem integrados ao mundo desenvolvido. Por que a escolha de remover das fotos todos os sinais disso?
O que eu tento fazer é uma interpretação romântica. É uma forma de alinhá-los com o mundo natural em que vivem. Não é jornalismo que estou fazendo. É uma interpretação artística do que acredito serem elementos de uma verdade.
E por que você nunca fotografou no Brasil?
Por causa da política e das dificuldades de acesso. Por coincidência, jantei ontem com Sebastião Salgado aqui em Paris. Ele está com sua exposição sobre a Amazônia aqui e conversamos sobre isso. E ele disse que esse projeto da Amazônia foi o mais difícil que ele já realizou, por causa da logística e de questões políticas. Mesmo com o status e a experiência que ele tem. Como eu não sou o Sebastião Salgado e nunca serei, acho que será bem difícil que eu consiga fotografar comunidades no Brasil.

As comunidades retratadas viram seus livros? Como elas reagiram às imagens?
Eu tenho voltado para cerca da metade das comunidades com as quais trabalhei, não só para mostrar o livro, mas também para iniciar uma conversa mais aprofundada e envolvê-las com a Jimmy Nelson Foundation. O mais curioso é que elas não estão interessadas nos livros ou nas fotos. Elas estão muito mais interessadas no meu retorno. O livro é um tipo de representação bidimensional subjetiva dessas pessoas, e elas não estão preocupadas com sua aparência, ao contrário de nós no mundo desenvolvido. Elas estão mais preocupadas em estar no agora, na integridade do que é ser humano, ao invés de como eu penso que elas são. Elas sabem o que pensam de si mesmas. Nós, por outro lado, estamos desconectados com o que sentimos como indivíduos e extremamente ocupados com o que os outros pensam sobre nós. Então, o que eles me dizem é: se é assim que você nos vê, c’est la vie, mas você se esforçou para voltar e nos devolver o que tomou, e isso é muito mais importante para nós.
Como é esse trabalho que você está desenvolvendo com a Jimmy Nelson Foundation?
As imagens que faço não são minhas, pertencem à comunidade. Eu acredito na reciprocidade. Eu tenho que devolver o que eu tomo, moralmente. Além disso, estou desesperadamente interessado em consolidar a sabedoria e o conhecimento desses povos e em capacitá-los para cuidar de sua herança cultural. Portanto, metade do trabalho da fundação é ajudá-los a encontrar maneiras de consolidar e valorizar essa herança. A outra metade está dedicada a criar uma plataforma digital de educação que traduza sua sabedoria para nós no mundo desenvolvido.
Como a fotografia pode ajudar essas pessoas?
Tenho um belo exemplo disso. Quando estive pela primeira vez entre os cazaques da Mongólia, há dez anos, devia haver uns 30 ou 40 caçadores de águias. Era uma tradição de gente velha. Quando voltei, o líder da comunidade me levou até sua casa e lá eu vi uma pilha dos meus livros – sendo que eu não havia enviado livro nenhum – e na parede vários retratos de caçadores da comunidade feitos por outros fotógrafos. Eu pensei: ah, não, aconteceu o que haviam me alertado; quando você tira uma foto, você abre uma porta e outras pessoas te seguem. Eu disse a ele que sentia muito, que eu havia transformado seu mundo com as minhas fotos. Ele me respondeu: “Sim, você transformou, mas não queremos que se desculpe, queremos agradecer. Por causa do seu interesse, recebemos novos visitantes com câmeras e começamos a perceber nosso valor. Começamos a nos reconectar com nossas tradições”. Na manhã seguinte, me levaram para uma cerimônia no alto da montanha, onde mais de 400 caçadores de águias me esperavam. Além dos mais velhos, agora havia também jovens e mulheres. “Jimmy, estes somos nós”, me disse o líder.
Qual sua opinião sobre o turismo? Você acha que algumas comunidades tradicionais deveriam ser mantidas longe dos turistas?
O que eu vou dizer é controverso, mas eu acho que ninguém deve ser confinado em lugar nenhum. Acho isso tacanho, ingênuo, paternalista. O mundo é um só. Quanto mais cedo nos entendermos, quanto mais cedo nos conectarmos uns aos outros e nos honrarmos, mais seguro será levarmos esse planeta para o futuro.
Sabemos que o turismo de massa pode arruinar algumas culturas.
Não acho que foi o turismo que as destruiu, talvez seja o modo como foi feito. Se for de maneira compreensiva, empática, inteligente, é um bom jeito. Tenho um bom exemplo. Já estive no Vale do Omo, na Etiópia, muitas vezes. Vinte anos atrás, você tinha que viajar por três semanas no meio do mato; agora tem estrada e pista de pouso. A desvantagem é que as culturas não são tão puras quanto antes. A vantagem é que o turismo de massa fez com que o governo mantivesse as tribos lá. Eles queriam removê-las para construir uma usina hidrelétrica. Ainda acho que essa é a melhor maneira que nós, como seres humanos, podemos nos entender. Mas fará toda a diferença se você for um turista e se questionar: você está fotografando alguém para seu próprio ego ou para se conectar com essa pessoa para melhor conhecê-la e compreendê-la?

Como conhecer esses povos mudou a maneira como você se vê hoje?
Sou mais capaz de me olhar no espelho e aceitar o que vejo e, talvez, amar a mim mesmo. Essa é a grande virada. Acho que se todos os seres humanos reconhecerem esse processo, a humanidade será muito melhor para todos. Viajar é um ato contínuo, perpétuo. Quanto mais eu viajo, mais perto eu chego de me entender melhor. Gosto de usar uma metáfora para isso. Como seres humanos, todos nascemos puros, como uma pena, muito leve, que capta o ambiente de maneira muito natural. Até a idade de sete ou oito anos, estamos abertos para o mundo. Depois, a maioria de nós perde a capacidade de voar. Porque perdemos a capacidade de cuidar da aerodinâmica que permite a leveza do ser. Eu, movido pela necessidade de me entender melhor, comecei a me ensinar a proteger novamente essa pena. Tentar encontrar um equilíbrio entre a relativa sabedoria da meia-idade e a leveza da criança e fazer com que
essa pena voe novamente. Para ver a beleza do que é ser humano e a beleza da humanidade nos outros. É isso que viajar significa para mim.
De que modo isso fez com que você se aceitasse melhor?
Depois de ter sido confinado num internato, me afastei de qualquer forma de sentimento. Se eu tratasse de sentir, era como se um buraco infinito se abrisse; por isso, tapei esse buraco com concreto. Até o momento em que meu cabelo caiu quando eu tinha 16 anos, por causa do estresse e de um remédio errado que me deram. Eu me olhei no espelho, e a feiura que estava sentindo por dentro agora podia ser vista por fora. Senti que todo o isolamento e a vulnerabilidade que havia em mim não poderiam mais ser escondidos. Foi então que parti em uma jornada sem consequências, sem rota, sem manual, para tentar encontrar uma maneira de trazer a alma de volta ao corpo. De sentir. Essa jornada perpétua de curiosidade e descoberta é, para mim, uma forma de voltar a sentir minha humanidade. Isso tem tudo a ver com amor-próprio. E de uma forma muito prática: se você não respeitar o corpo que te veste, não o integrar à sua alma e não se atrever a amá-lo, você terá problemas sérios. Não é sobre fotografia, sobre antropologia, sobre viagem. É sobre como posso sustentar minha humanidade pelo breve período de tempo em que estou neste planeta.
O que é ser humano para você?
Ter humildade. O mínimo de ego possível e empatia pelo outro. E não acreditar que tenho qualquer autoridade ou direito sobre o outro. (Entrevista publicada originalmente na edição 103 da The Traveller).